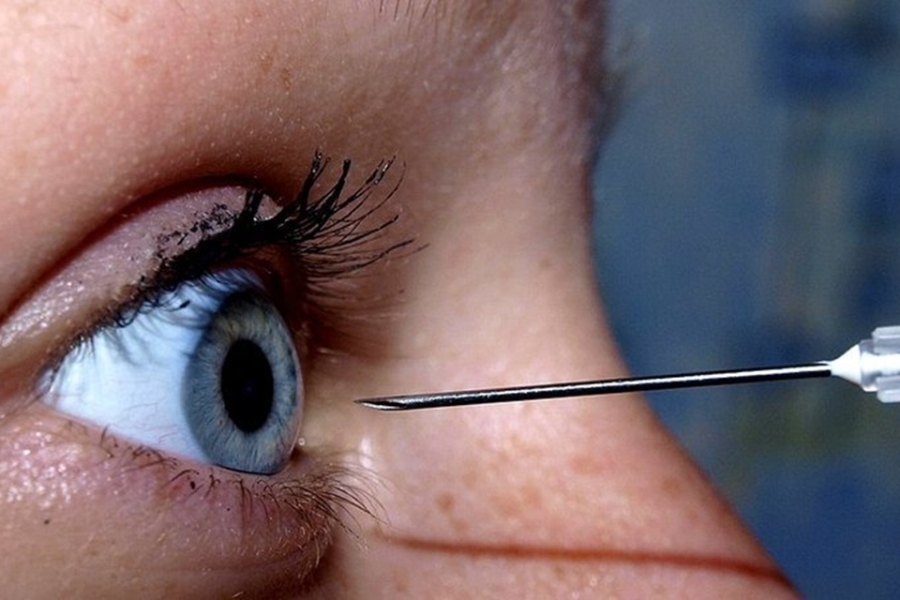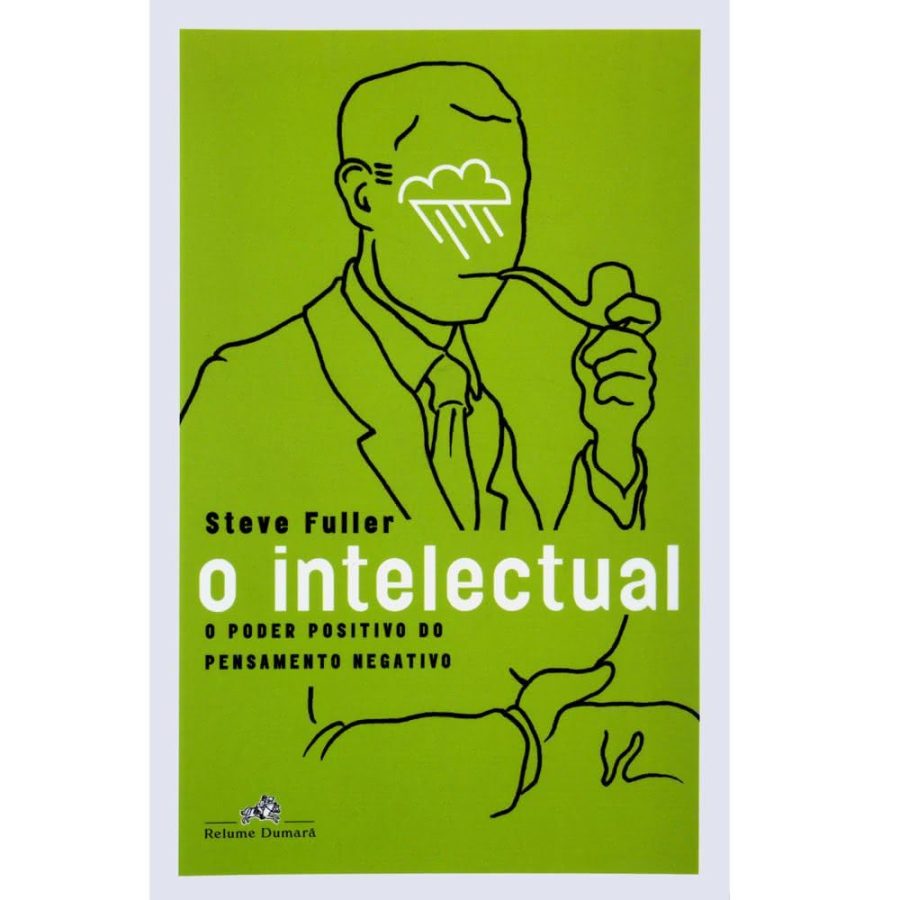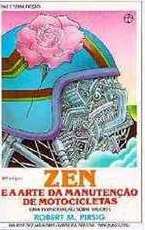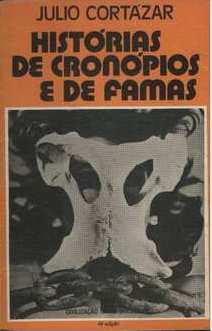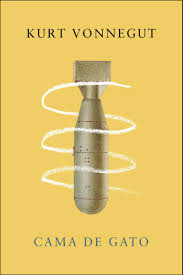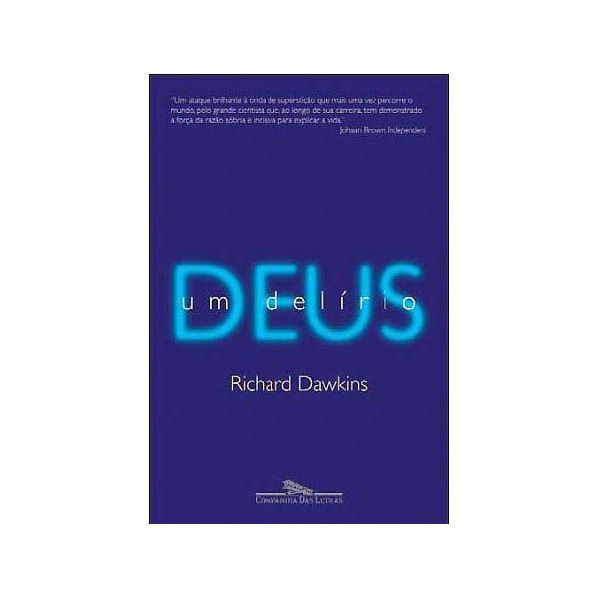Quando cursava meu mestrado, lá pelos idos do fim dos anos 80, fiquei indelevelmente marcado por um professor de teoria musical, compositor, que declarou, em sua primeira aula, ser flexível e tolerante em relação a qualquer insuficiência discente, que se propunha a ajudar a sanar, exceto uma, a saber, a desonestidade acadêmica, que implicaria em reprovação sumária. Aquela fala calou fundo em minha mente. Até hoje a tenho como pináculo ético absoluto em práticas de ensino.
Esses dias, conversando com um amigo psicólogo que sempre me traz informações interessantes, soube (ou, melhor dizendo, confirmei a suspeita) que a prática de plágio é comum em praticamente um terço (entre 30 e 40%) de todos os TCCs defendidos. Há uma verdadeira guerra não declarada entre, de um lado, alunos que buscam rechear seus trabalhos acadêmicos com trechos de textos alheios sem a devida atribuição de autoria e, de outro, professores que se valem cada vez mais de ferramentas online para detectar o expediente.
De posse destas informações, me dispus a explorar o problema – nem tanto em relação às múltiplas formas como se apresenta ou aos recursos disponíveis para sua detecção mas, sobretudo, quanto à sua própria razão de existência e o tanto de tempo de atenção, tanto de professores como alunos, que é desviado de atividades de aprendizagem mais pertinentes.
Antes de sair deitando ideias do nada, fui brevemente à nuvem para dimensionar e qualificar o que de mais evidente há sobre o problema. As primeiras dez entradas retornadas para uma busca sobre plágio acadêmico são textos de blogs destinados a alunos esclarecendo o fenômeno e tentando prevenir o plágio involuntário, decorrente de formatação indevida, i.e., que não distingue claramente entre citações e ideias originais. Sintomaticamente, se encontram nestes sites anúncios de ferramentas para a elaboração de TCCs – tais, como por exemplo, formatadores automáticos para as temidas normas da ABNT. O melhor texto encontrado nesta busca é, de longe, uma cartilha da UFF (Universidade Federal Fluminense) contendo a definição e uma tipologia do plágio, orientação sobre como evitá-lo e as diversas formas que pode assumir uma licença Creative Commons. De resto, nada encontrei que me direcionasse a sites de trabalhos prontos como, por exemplo, o tristemente célebre Zé Moleza.
Já uma busca mais específica, por detecção de plágio acadêmico, retorna uma impressionante coleção de ferramentas existentes. À parte de inúmeros programas dedicados, se apreende que a forma mais simples e rápida de se identificar uma porção de texto plagiado é, como de se esperar, jogando o mesmo no google.
(tal facilidade me remete de pronto à época (no início dos anos 90) em que ministrava disciplinas de análise musical – quando, para identificar trechos plagiados, num verdadeiro jogo de gato e rato, precisava conhecer amplamente as fontes. Mas isto foi muito antes do excesso virtual)
* * *
Consoante à proposta inicial de ruminar sobre o estado de coisas que eleva o plágio acadêmico ao patamar de uma indústria, vou, sem rodeios, direto ao ponto: é perfeitamente razoável se afirmar que a prática de copiar, na íntegra ou em fragmentos, obras alheias sem atribuição de autoria se deve, antes de tudo, à importância exacerbada conferida pela academia à redação de textos volumosos (artigos, teses, TCCs e monografias) em formatos tão rigorosos quanto enfadonhos (tornarei a isto). Ouço, aqui, protestos indignados. Então, se alguém afirmar sentir habitualmente algum prazer na leitura desta sorte de documento, fingirei que acredito.
Neste contexto, o relato de uma pesquisa também pode facilmente assumir uma dimensão maior do que a própria pesquisa em si – podendo, inclusive, em muitos casos, distorcer pelo exagero a importância da mesma para a respectiva área de conhecimento.
O texto acadêmico, dito científico, é, por definição, redundante, i.e., contém, por força normativa, uma elevada proporção de informação já comunicada por outrem alhures. Ao mesmo tempo, ambiciona à originalidade, segundo o mito da primazia de enunciação.
Aqui se faz necessário explicar, ainda que correndo o risco de assumir um caráter demasiado didático, no que consiste o supracitado mito. A primazia de enunciação, um dos pilares da citologia (neste caso entendida como a arte e a ciência da citação), sobre o qual repousa a hierarquia do saber acadêmico, nada mais é do que a presunção de que qualquer enunciação seja original desde que não se encontre nenhuma instância anterior da mesma. Noutras palavras, um absurdo ontológico. Não que uma enunciação não possa ser original. O que é, no entanto, absurdo é o pressuposto de que, pelo mero desconhecimento de qualquer ocorrência anterior da mesma, ela seja necessariamente original. Numa redução ao absurdo, é como a história da espanhola que patenteou o sol, reivindicando o direito de cobrar royalties por seu uso.
É claro que isto não teria a menor importância, toda formulação sendo bem-vinda a qualquer campo de conhecimento, não fosse por um fato singelo: na pirâmide acadêmica, citações funcionam como moeda, seu mapeamento engendrando uma verdadeira economia, resultando por determinar hierarquias de pessoas mais pelo que publicam do que por suas capacidades lógicas e cognitivas. Tal estado de coisas se popularizou como a cultura do “publish or perish“.
O excesso de texto decorrente desta cultura possui sérias consequências logísticas e econômicas. Há 30 anos atrás o problema já tinha sido identificado, inicialmente por bibliotecários, preocupados com o armazenamento e disponibilidade de “documentos” científicos produzidos pela academia, que então alertavam: ” – Publiquem menos ! “Hoje, com todos os custos educacionais postos em cheque, cada vez mais são questionados os valores astronômicos cobrados por assinaturas de publicações científicas pouco lidas pelas bibliotecas universitárias.
Finalmente, o texto acadêmico é, por definição, muito chato. Nele, protocolos bem restritivos obrigam autores a altíssimos níveis de redundância. Em nome da exatidão, todas as premissas, mesmo as mais óbvias, devem ser minuciosamente explicitadas. Além disto, a enorme quantidade de citações, com as devidas atribuições de autoria, são responsáveis por grande parte do corpo do texto e seus apêndices, tanto em notas de rodapé como em referências bibliográficas ao fim da obra ou de cada um de seus capítulos, superando, em muitos casos, a quantidade de texto devotada à enunciação de ideias originais. Tudo isto conspira contra qualquer escrita criativa, a qual premia, acima de tudo, o estilo individual do autor e o espaço interpretativo do leitor. Num texto acadêmico, todavia, há pouco ou nenhum lugar para qualquer um deles.
Só que, mesmo com as limitações acima, a modalidade de escrita acadêmica talvez constitua a maior parte de tudo o que é escrito (como eu gostaria de ter uma estimativa confiável para esta proporção !). Por outro lado, está, por razões óbvias já mencionadas, entre as formas de texto menos lidas. No máximo, por orientadores, avaliadores, estudantes em busca de referências para seus próprios textos e, minimamente, por pesquisadores efetivamente preocupados com o avanço da ciência que, não obstante, são lembrados em primeiro lugar quando se trata de justificar tão prolixa malha de informações.
Por que, então, o acúmulo exacerbado de textos em tal estrutura, que cresce descontroladamente (a wikipedia, ao contrário, cresceu até convergir para um valor mais ou menos estável, em torno de 3 milhões de verbetes), favorecendo a redundância e dificultando o garimpo de informações ao ponto de que o mesmo seja considerado como uma competência necessária e exclusiva de pesquisadores ? Já aludimos acima à resposta: tal estado de coisas serve, primordialmente, à manutenção de uma hierarquia acadêmica, cuja economia repousa sobre fatores de impacto e na qual citações valem como moeda.
Mas qual seria, então, a melhor alternativa ao sistema vigente ? Simples: a abolição de todo conhecimento proprietário, tal como na comunidade do software livre com código aberto, com textos colaborativos e enxutos, à razão de uma referência única por assunto (contendo, é claro, todos os contraditórios formulados), à maneira da wikipedia.
Uma última ressalva em relação ao modo como usualmente são valorados textos acadêmicos tem a ver com o campo de leitores responsáveis pela aceitação ou validação dos mesmos, a saber, comitês de especialistas previamente designados, sejam eles participantes de bancas ou conselhos editoriais. Tal expediente é conhecido como avaliação por pares. Ora, num mundo ideal, a apreciação e validação de qualquer texto se daria mediante sua exposição pública a um vasto conjunto indeterminado de leitores voluntários – sua consagração, neste caso, se dando muito mais pelo conjunto da crítica espontânea de um grande número de sujeitos, não necessariamente pertencentes às mesmas esferas do autor, do que pela aprovação por uns poucos pares do mesmo, reunidos em comissões e, muitas vezes, com interesses próprios inconfessáveis em relação à promoção ou não de textos específicos submetidos a avaliação.
Mais sobre o excesso de publicações científicas e alternativas embrionárias para a solução do problema aqui.
* * *
Inicialmente um alerta sobre o problema dos TCCs, este post acabou degenerando num libelo contra o texto acadêmio-científico conforme o conhecemos. Não pude evitar: é mais forte do que eu. Torno, então, ao propósito original.
A exacerbação da importância do TCC parte da questionável premissa de que todo profissional deve estar também capacitado a comunicar não importa o que numa linguagem compatível com a das publicações científicas. Assim, na ausência de ideias originais (haja assunto para a horda de formandos em todas as faculdades !), se escreve sobre qualquer coisa, nem que seja uma revisão bibliográfica. Com isto, perdem, de um lado, alunos que deveriam estar mais ocupados, em seus estágios, com competências que lhes serão exigidas mais tarde, no exercício profissional e, de outro, professores condenados a revisar milhares de páginas de documentos visando adequá-los às normas para publicação em periódicos aos quais a maioria nunca será submetida. A trágica ironia disto tudo é que, muito provavelmente, a maioria dos autores de TCCs jamais chegarão a redigir qualquer coisa destinada a tais publicações.
Além disto, conquanto professores e alunos tenham igualmente a lamentar a exigência absurda de TCCs, tanto uns quanto os outros devotam um esforço enorme à prática arraigada de tentar burlar o sistema: enquanto alguns alunos se valem do plágio como forma de se desvencilhar de uma tarefa por vezes tida como impossível ou, quando muito e com alguma razão, além da relação custo/benefício razoavelmente aceitável, qualquer professor mais zeloso se dedica diligentemente a detecção de sua prática. O que cada um deles, a ciência e a comunidade ganham com isto ? Ainda estou por descobrir.
Se concluirmos, por outro lado, que a expressão escrita é realmente fundamental a qualquer egresso do ensino superior, haveria meios muito mais eficazes de verificar tal competência – como, por exemplo, em provas de redação, como as aplicadas a candidatos ao ingresso em qualquer faculdade.
Não sou tão nostálgico ou purista a ponto de querer banir, também, o uso de editores de texto. A recursividade na escrita é, afinal, um verdadeiro avanço que veio para ficar. Então, em provas de redação, a simples ausência de conexão com a internet seria suficiente para impedir qualquer tentativa de se apropriar indevidamente de blocos de texto de outras fontes.
Aqui, muitos hão de objetar que a redação de um artigo ou monografia é uma tarefa bem diferente da de uma redação escolar – ao que direi: em extensão, sim, mas, em essência, não. Pois quem não é capaz de desenvolver uma argumentação inteligível e elegante em 3 ou 4 parágrafos jamais o será ao longo de um documento com dezenas de páginas. Ao mesmo tempo, quem consegue elaborar uma argumentação num texto sucinto deve ser também capaz de fazer o mesmo em um documento mais extenso – a diferença sendo, no caso, não mais do que uma questão de tempo necessário à tarefa, esforço empreendido e formatação.
Pensem, então, na economia de atenção e esforço que a substituição de longos trabalhos domiciliares não supervisionados por redações presenciais sem consulta representaria para toda a comunidade acadêmica. E pensem, sobretudo, no fim da existência de um vasto corpo de textos redundantes cuja única função é a comprovação na prática da competência de sujeitos para a elaboração de peças longas rigorosamente formatadas outrossim inúteis. A maior atenção à confecção de textos publicáveis não deveria, portanto, ser exigida indiscriminadamente de todo e qualquer profissional mas, tão somente, daqueles que efetivamente terão que lidar, em suas rotinas de trabalho, com a publicação de textos, científicos ou não.