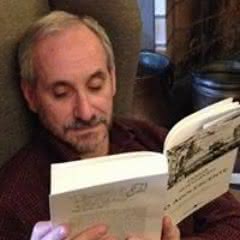Há hoje um certo glamour em torno do disco de vinil. Vamos aqui especular sobre possíveis origens do fenômeno. Fatos e mitos. A inexorável marcha dos meios comerciais de distribuição de gravações sonoras. Eis algo bom para se começar, organizando um pouco o campo no qual o vinil se insere.
Desde a invenção do som gravado, já tivemos cilindros sulcados, que logo se converteram em discos (mais facilmente industrializáveis, porque passíveis de serem “impressos”), em seus diferentes diâmetros e rotações de reprodução, até o advento do CD que, por sua vez, deu lugar ao streamming. Tudo isto em pouco mais de 100 anos, apenas. Tempo suficiente, no entanto, para influenciar o padrão de duração da música comercial até como a conhecemos hoje. Da seguinte maneira.
O disco compacto, lançado pela RCA em 1949, com 7 polegadas de diâmetro e reproduzido a 45 rotações por minuto, podia conter no máximo 4 minutos de música em cada face. Com o disco compacto rapidamente se tornando o formato hegemônico para o lançamento de hits (músicas mais promovidas pelos meios de comunicação, que por isto mesmo se tornam as mais populares), ocorre que os 4 minutos acabaram se tornando uma espécie de limite superior para a duração de qualquer coisa que se grave almejando ao sucesso comercial imediato. Vale ressaltar que um LP (disco de 30 centímetros de diâmetro) contém obrigatoriamente um hit (e via de regra não mais do que isto), sendo o restante de seu “espaço” reservado a manifestações mais “autorais”. De tal modo que podemos, grosseiramente, afirmar que, enquanto o hit pertence ao produtor, o resto de um LP é território por excelência de seu titular – o qual, ironicamente, costuma ser preenchido por composições que não ultrapassam o limite dos 4 minutos, mesmo sem jamais serem comercializadas em discos compactos.
É claro que esta padronização exacerbada se aplica somente àquela música mais imediatamente consumível, reconhecida pelo rótulo de canção popular, não tendo qualquer validade para gêneros como o jazz, a música eletrônica, algum rock progressivo e discursos musicais mais experimentais. E a música chamada “erudita”, é claro. Em tais gêneros, não é nada raro ouvirmos peças que começam num lado de um LP e terminam no outro, com um par fade in/fade out ao fim do lado A e no início do lado B a sinalizar a continuidade.
Notem que tal critério duracional repercute ainda sobre formatos que nada tem a ver como o disco compacto, sepultado há décadas – como, por exemplo, os abomináveis reality shows musicais televisivos, que tentam resgatar os velhos festivais e shows de calouros com auditórios, tais com The Voice ou The Masked Singer. Se em The Voice cada música é abreviada pelo corte de repetições presentes nas gravações originais, já The Masked Singer apresenta as canções inteiras. Num ou noutro, a padronização do tempo alocado a cada candidato visa não apenas garantir uma certa isonomia de oportunidade aos mesmos mas, sobretudo, regular a quantidade de “conteúdo” oferecida aos espectadores entre um intervalo comercial e o próximo. Pois a proporção propaganda/conteúdo, maximizada ao limite da suportabilidade, é o principal fator a determinar grades de programação na mídia comercial.
* * *
Quando uma nova mídia, quase sempre apregoada como revolucionária, desbanca uma anterior, hegemônica, se travam verdadeiras guerras por fatias de mercado, com argumentos abundantes contra ou em prol de uma mídia ou de outra. Quando surgiu o CD, se dizia que soava melhor e durava mais do que um LP. Prefiro deixar a discussão quanto à qualidade do som para os especialistas, até por que tanto CDs como LPs podem conter tipos distintos de gravações, a saber, analógicas ou digitais. Tal distinção, por si só, diz muito mais da qualidade do som de uma gravação do que, propriamente, o meio (CD ou LP) onde está codificada.
Na falta de maiores conhecimentos técnicos, me arrisco, todavia, a manifestar certa preferência pelo som de um disco de vinil. No caso de gravações analógicas, um CD não pode fazer nada para melhorar como uma mesma música soaria num LP. O mesmo não se dá com gravações digitais. Há, aqui, uma diferença fundamental. Enquanto no CD a música é codificada digitalmente, num LP a mesma gravação digital precisa ser convertida em analógica antes de ser “impressa” no disco. Então, a possível diferença é muito mais lógica do que sensorial (talvez a diferença seja pequena demais para ser ouvida), formulada da seguinte maneira: qual deve ser o melhor conversor digital-analógico: o contido nos circuitos de um tocador de CDs produzido em massa para consumo ou aquele utilizado numa planta industrial para converter os pulsos binários de uma gravação digital em uma onda analógica capaz de ser “impressa” em LPs ? A resposta definitiva, envolvendo bytes e bits, é, no entanto, de uma complexidade técnica fora do meu alcance, razão pela qual prefiro deixá-la a cargo de especialistas, passando, de pronto, ao próximo argumento, a saber, a durabilidade.
Quando surgiu o CD, se dizia que era eterno. Um argumento fácil, se levarmos em conta a facilidade com que um LP acumula arranhões e sujeira. Tudo bem. Mas só por um certo tempo. A imutabilidade do som do CD ao longo dos anos era bem convincente (uma noção falsa, já que, sabemos, o mais simples tocador de CDs é capaz de sintetizar pequenas porções de informação faltante na medida em que um CD é lido pelo feixe de laser). Isto até eu tentar ouvir, anos atrás, CDs da prestigiosa Deutsche Grammophon adquiridos no fim da década de 80 nos quais havia trechos de informação faltante longos demais para serem sintetizados pelo aparelho reprodutor. Foi quando, num exame visual da superfície do CD, constatei que a película metálica na qual é gravada a informação binária estava corrompida, com grandes manchas, visíveis a olho nu, denotando o ataque por fungos. Em contrapartida, ouço até hoje os LPs favoritos de minha juventude, comprados ca. 10 anos antes.
A maior diferença entre o CD e o LP não é, todavia, a qualidade sonora, possivelmente mensurável só em laboratórios, nem tampouco a durabilidade, que só pode ser percebida depois de muitas décadas, talvez mais do que o período de vigência de cada meio. Entendo que tenha a ver com a própria música que se gravava em cada um. Falo, aqui, de curadoria.
O ressurgimento do LP é revestido de um certo fetiche. Seu aspecto saudosista, que nos faz gostar de tecnologias e objetos antigos. Vintage virou sinônimo de glamoroso. Fotografia com filmes negativos em vez da digital. Cinema em vez de televisão. Rituais não são menos importantes. Assim como ir ao cinema (embora os modernos projetores reproduzam arquivos de HDs), é mais prazeroso (ainda que mais trabalhoso) do que ver televisão, com os discos se dá o mesmo. Descer suavemente a agulha sobre uma superfície giratória e virar o disco ao fim do lado A agrega à experiência da audição musical muito mais do que simplesmente apertar botões. Por que ? Não sei.
Sei, no entanto, que os caminhos percorridos por uma música até ser impressa num CD ou LP são totalmente distintos. Principalmente no que se refere à curadoria. Na era do LP, os meios de produção eram caros (estúdios com mesas de 24 ou mais canais e máquinas gravadoras de fita de 2 polegadas) e escassos (eram poucas as fábricas de discos), e eram franqueados pela indústria fonográfica a produtores todo poderosos que lhes apontavam com quais artistas e repertórios poderiam auferir maiores lucros. Se a década de 80 (quando o LP já minguava) foi dominada por produtores descobridores de talentos, anteriormente o acesso mais democrático aos selos importantes era regulado pelos festivais.
Foi, contudo, na era do CD que o acesso ao disco mais se democratizou. Com o surgimento do home studio, todo autor passou a poder, a custos bem mais acessíveis do que no período precedente, industrializar e divulgar seu próprio trabalho. Então, ainda que as fábricas de CDs não fossem, talvez, muito mais numerosas do que as de LPs, muito mais títulos foram fabricados pelas primeiras do que pelas últimas. Numa proporção astronômica, eu diria.
Nesta transição, um fator importante que não pose ser subestimado é a internet. Sem ela, uns poucos produtores, que representavam poucos selos fonográficos, tinham poder de vida ou morte sobre a música que era ou não industrializada e promovida, pois sua área de atuação também incluía o acesso, por meio de expedientes como o jabá, à programação de rádio e TV. Hoje, além de se auto-produzir, todo autor também se promove publicando sua obra em plataformas de streamming e a divulgando em redes sociais. Deste modo, não é nenhum exagero se afirmar que, hoje, uma aprovação maciça (likes) vale bem mais do que qualquer crítica publicada.
* * *
Tendo feito, acima, uma apologia do disco de vinil, caímos na complexa experiência de comprar LPs hoje. Primeiro, por que o hype do formato contribuiu muito para o aumento de seu preço médio. Ao ponto de se cobrar por LPs novos (de 180 gr) algo como R$ 250, sejam lançamentos ou reedições. A situação dos usados não é mais alentadora, custando em média entre 50 e 100 reais. O problema dos usados merece um parágrafo autônomo.
Adotei recentemente a disciplina de garimpar LPs em feiras de usados, na crença de que, vez que outra, meus esforços seriam recompensados com a descoberta de algo excepcional. Ledo engano. Em todas as minhas incursões até agora (ainda não perdi de todo a esperança), só topei com discos dos quais as pessoas se desfizeram em reduções de coleções; elas invariavelmente guardam para si (assim como eu) seus melhores discos. Então, para você que, por qualquer motivo, gosta de discos de vinil, as notícias não são das melhores. Das duas uma: ou você tem que ter muito dinheiro ou se contentar com aquilo de bom que adquiriu num passado remoto.
* * *
Para um mergulho mais profundo, repleto de informações valiosas, nos meandros da indústria fonográfica, vale a pena conhecer três obras: Como a música ficou grátis, de Stephen Witt; Os Donos da Voz, de Márcia Tosta Dias; e Maestros, obras-primas e Loucura, de Norman Lebrecht. Enquanto os títulos de Lebrecht (sobre o declínio da indústria da música clássica) e de Witt (sobre a pirataria) se encontram traduzidos para o português, o de Dias, sobre a indústria da música no Brasil, além de ser original em nosso idioma, é um daqueles raros casos em que uma tese de pós-graduação, de tão boa e pertinente, acabou se tornando um livro publicado.