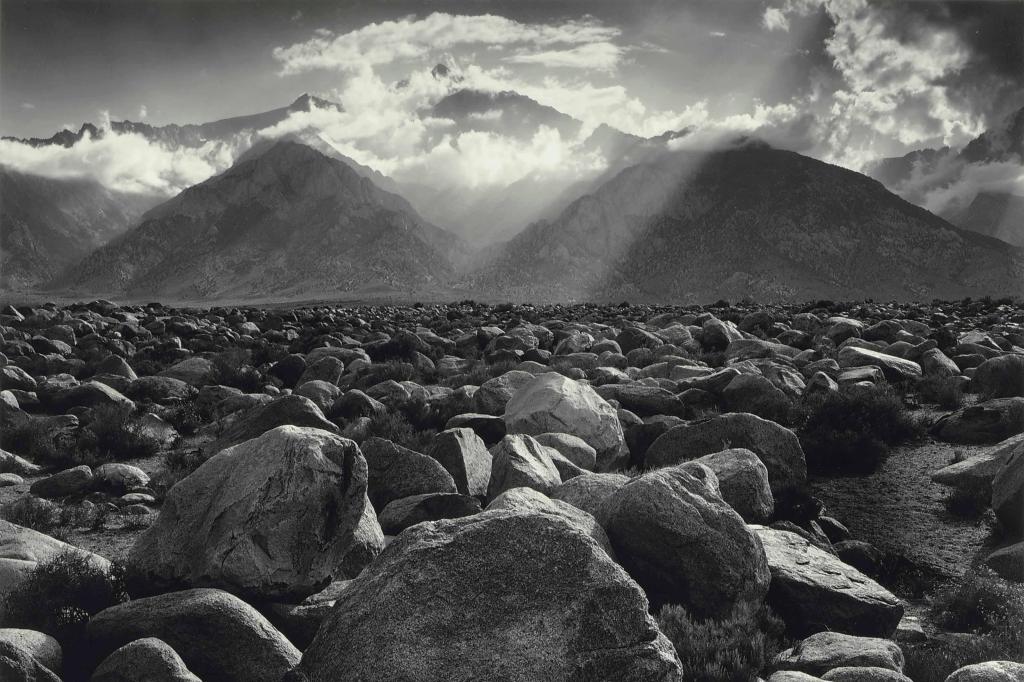A neutralidade da rede é um princípio que norteia o protocolo da internet, garantindo que qualquer conteúdo nela trafegue com a mesma velocidade, de acordo com a ordem de chegada, independentemente de quanto está sendo pago e por quem para que a informação nela viaje. Como numa fila única de transplantes.
Como todo princípio isonômico, há quem a ele se oponha. Os argumentos contra a neutralidade variam. Desde os mais comerciais, como garantir a quem pague mais o direito de suas informações circularem mais rápido e/ou eficientemente, como no caso de aplicações que demandam maior largura de banda, tais como plataformas de streaming; até aqueles supostamente mais “altruístas”, como o de que a neutralidade seria um obstáculo à inovação tecnológica.
Uma das propostas mais criativas é a existência não de uma rede única, neutra, mas de várias redes concomitantemente: uma neutra, universalmente acessível, para emails, blogs e sites menos acessados, e tantas outras quanto forem necessárias com facilidades para grandes usuários com necessidades mais específicas.
Assim, tendo surgido como uma condição praticamente utópica, que igualava grandes e pequenos no que tange ao tratamento recebido pela rede, a neutralidade logo se tornou objeto de debate. Tanto que possui nuances diferenciadas em cada país. No Brasil, a internet é neutra, regulamentada pelo Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014).
Para um entendimento mais abrangente e detalhado da neutralidade da rede, vale a pena consultar a Wikipedia – a qual, ainda que por vezes seja bem sumária, ao menos sobre este assunto é altamente informativa. E neutra.
* * *
Mas não é sobre isto que vim falar. Perto de tudo o que encontrei facilmente sobre o tema, discorrer mais seria como chover no molhado.
Com certeza notaram a licença poética, por assim dizer, do título do post, com os “(s)” depois das duas últimas palavras. A ambiguidade se deve à referência tanto à internet como um todo, com seu controverso ideal isonômico, como, ao mesmo tempo, às redes sociais que nelas residem – as quais, por sua vez, de neutras não tem nada. Ou, ao menos, é nisto que, do alto de minha teoria conspiratória, acredito. Como tento deixar claro adiante.
Redes sociais residem em plataformas (sites) que residem na internet. Como todo site, tem seus proprietários. E, salvo notáveis exceções de sites colaborativos (wikis) não lucrativos que atendem a interesses públicos – como, por exemplo, a wikipedia ou a IMSLP (maior repositório online de partituras musicais), plataformas de redes sociais são, via de regra, startups que deram certo, com alto valor de mercado e que remuneram seus proprietários, sejam eles indivíduos ou acionistas, com polpudos lucros advindos da exibição de publicidade (mais comumente) ou venda de assinaturas para versões ad free.
Até aí tudo bem. Já banalizamos a ideia de que o mercado está aí para quem dele saiba tirar proveito. Todo o problema começa com o algoritmo de distribuição – o qual, numa rede, seleciona quais postagens são (e, o que mais nos interessa, não são) mostradas a cada usuário. Num mundo perfeito, algoritmos seriam transparentes (como, sei lá, a programação em código aberto), configuráveis às necessidades e preferências de cada um. Mas não. Funcionam como caixas pretas, sobre cuja ação podemos não mais do que tecer suposições. Teorias conspiratórias inclusive, como aquela adiante.
* * *
Antes, porém, de prosseguir, cabe um esclarecimento: minha experiência primária se restringe a uma única rede social, a saber, o facebook (não consigo acessar com a devida frequência (que dirá nela interagir) mais do que uma). Não descarto, portanto, a existência de outras redes mais transparentes no tratamento da informação que nelas circula.
* * *
Algoritmos de distribuição existem por que o grande volume de informação (acho que o nome disso é metadados) torna proibitiva a análise por humanos de todos os conteúdos que circulam em redes sociais. Tecnologias de inteligência artificial para reconhecimento de imagem já permitem, no entanto, atribuir automaticamente um viés moral ou ideológico a cada postagem ilustrada. Amigos já tomaram ganchos por postarem imagens com seios, bundas ou genitálias. Pouco importa se forem “nús artisticos”. Experimentem, por exemplo, postar uma reprodução de A Origem do Mundo (BRINCADEIRA, NÃO FAÇAM ISTO !).
Também é fácil para um algoritmo identificar e, conforme o caso, impulsionar ou ocultar imagens contendo símbolos tais como, por exemplo, uma estrela de Davi ou uma bandeira palestina. Com texto, no entanto, a coisa é um pouco mais complicada. É difícil apontar o matiz ideológico de algo escrito exclusivamente pelas simples presença ou contagem de palavras. Da seguinte maneira. Mesmo que vocábulos como capitalismo ou Marx apareçam uma ou mais vezes num texto, nada podemos afirmar sobre o viés ideológico do que foi escrito, i.e., se o texto é apologético ou condenatório em relação aos mesmos.
Ou, ao menos, assim eu supunha até poucos dias atrás. Quando manifestei meu ceticismo sobre o estado da arte da interpretação automática de textos, um de meus filhos simplesmente perguntou “– Conheces o ChatGPT ?” Talvez ele tenha razão. Se uma IA já consegue criar um texto convincente a ponto de passar por uma formulação humana, o caminho reverso (i.e., entender algo escrito por um humano) não deve ser, afinal, tão difícil. E, neste caso, vale atualizar a proposta por Harari, em The Economist, de uma legislação que obrigue aplicações que utilizem IA a informarem seus usuários sobre isto; para outra que também obrigue plataformas de redes sociais que utilizem algoritmos de distribuição seletivos que informem seus usuários sobre o funcionamento dos mesmos. Talvez como seu código fonte, ainda não compilado, comentado para inteligibilidade universal. Sonhar não custa nada.
* * *
Desde lá de cima, venho prometendo relatar a experiência, involuntária, que funcionou como um sinal de alerta para o fato de redes sociais não serem tão neutras como era de se esperar. Não sou ingênuo, é claro. Sempre suspeitei. Até sabia. Mas os fatos abaixo narrados só aguçaram minha percepção da coisa.
Até poucos anos atrás, sempre era informado pelo facebook de novas postagens pelos perfis de Evonomics (Holanda) e The Guardian (Inglaterra), duas publicações que prezo sobremaneira. Por vezes até traduzi matérias suas neste blog. Só que, ultimamente, notei que há muito não vinho sendo informado pelo face de atualizações destes perfis. Cheguei até a pensar que Evonomics tivesse saído do ar (The Guardian não, por ser um jornal londrino bem tradicional). Preocupado, verifiquei que os bravos holandeses continuam firmes e fortes, tanto no site como no facebook.
Comentando com meu amigo Fábio o ocorrido, ele teceu a hipótese de que, se eu curtisse as postagens dos dois, o face voltaria a me mostrá-las. Entrei, então, em ambos os perfis e curti por atacado. Esperei. Nada. Aprendi, com isto, que, doravante, teria que visitar os perfis (ou os próprios sites) se quisesse saber de novas atualizações, não mais podendo contar com o facebook para tanto. Problema resolvido. A curiosidade, todavia, persistiu.
De início, pensei que o face estivesse ocultando postagens de grandes publicações. Afinal, já tinha ouvido falar que o site “não gosta” de postagens com links que direcionem a navegação para fora da plataforma. Faria sentido. Só que não: continuo a receber normalmente atualizações de The Economist e The New Yorker, entre outros.
Foi então que me dei conta: os dois perfis que sumiam de meu feed são notórios por um viés que, se não escancaradamente de esquerda, não pode de modo algum ser definido como de direita. Ok, The Guardian pode ser classificado como de esquerda. Mas Evonomics publica textos que, de alguma forma, vislumbram possibilidades para “consertar” a iniquidade inerente ao capitalismo.
Já disse, acima, que acho difícil (mas não improvável) que um algoritmo identifique o teor ideológico de um texto para, com base nisto, decidir por sua evidência ou ocultação. Bem mais provável é que publicações maciçamente visualizadas sejam marcadas (talvez até por humanos) como desejáveis ou não no feed de usuários de redes sociais, segundo a matriz ideológica de seus proprietários.
Pouco importa, então, se postagens (ou, mais provavelmente, perfis) são impulsionados ou ocultos com base em julgamento humano ou exclusivamente algorítmico. O que fica patente é que, como já foi dito, de neutro o facebook (e provavelmente outras redes) não tem nada. CQD.