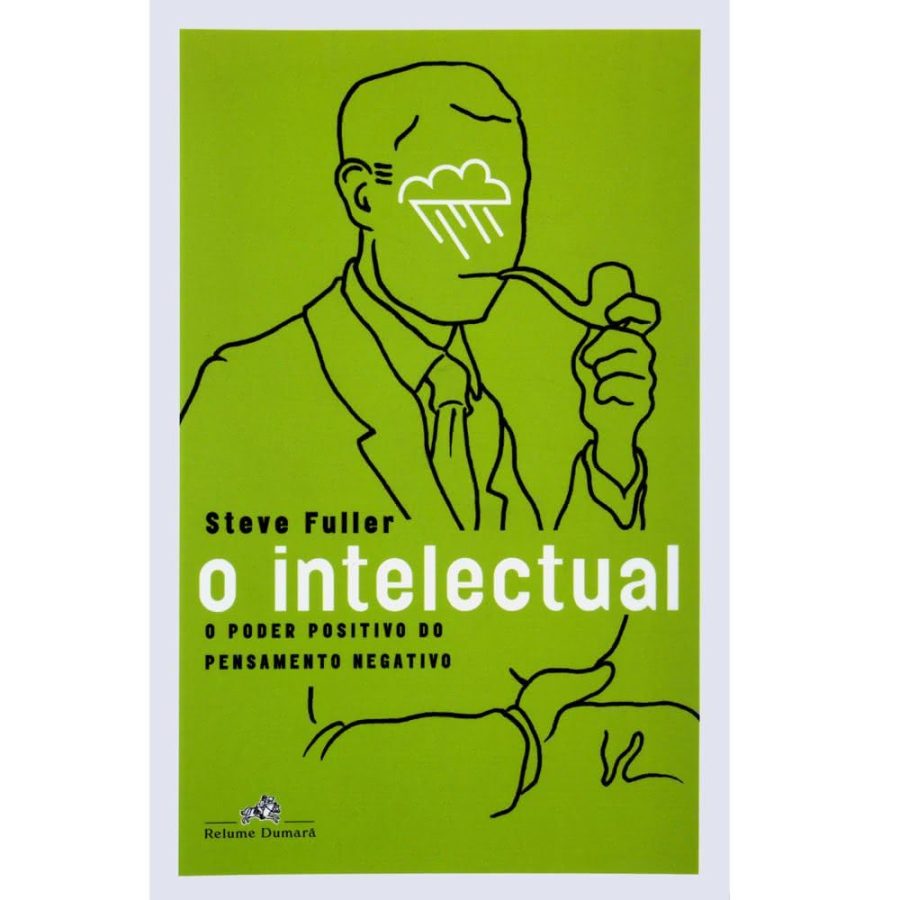
Meus filhos descobriram a dialética. Gostam de conversar sobre livros que leio. Dia desses, quando, falando sobre O Intelectual (2006), de Steve Fuller, mencionei que, segundo aquele autor, o modus operandi de todo intelectual é formular continuamente teorias conspiratórias, as quais não seriam, a priori, nem boas nem más, fui advertido por um deles a tomar cuidado quando proferisse esse tipo de coisa para não ser confundido com terraplanistas ou antivacs (tive que perguntar a ele o que era um antivac) e, consequentemente, ridicularizado.

Na hora só achei graça (ele está assim depois de ter lido A Estrutura das Revoluções Científicas (1962), de Thomas Kuhn; também tive, na juventude, meu momento de fascínio pela razão). Aquilo ficou martelando em minha mente. Como a bela expressão teoria da conspiração (tautológica, já que toda teoria é, por definição, conspiratória) assumiu um caráter tão pejorativo ? Será que ela já nasceu assim, como uma categoria capaz de abranger toda formulação estapafúrdia ? Careço de subsídios etimológicos para responder adequadamente. Mas que é intrigante, é. Súbito, me pareceu natural que Fuller procedesse à reabilitação semântica do termo, do mesmo modo como elogiou os sofistas, oponentes de Sócrates, detratados por Platão.
Toda tentativa de explicação de fenômenos naturais e sociais que ocorrem constantemente à nossa volta surge como uma teoria conspiratória. Explicar algo é encadear premissas em silogismos mais complexos. Se as premissas forem falsas é outra história, mas nenhuma teoria surge de outra forma. Então, de pouco importa se tantas formulações, pejorativa e inadequadamente chamadas de conspiratórias, forem ridículas se ao menos algumas delas servirem para termos uma compreensão melhor de qualquer coisa.
A história, por exemplo, é resultado de conspirações validadas pela aceitação ampla. Não me refiro aos fatos, que são, obviamente, verdadeiros ou falsos. Mas toda correlação entre eles é uma narrativa condicionada pelo espírito dos tempos e necessariamente ideológica – de modo que épocas e grupos distintos podem oferecer narrativas radicalmente diferentes sobre os mesmos fatos.
Todo esse relativismo é ruim ? Não acho. Pois é justamente do conflito entre narrativas contrastantes que podemos esperar algum progresso (ou, é preciso admitir, retrocesso) nas relações humanas.
* * *
A correlação espúria. Toda teoria conspiratória original procura estabelecer alguma correlação entre fatos verificáveis até então não percebida. Por vezes, acerta. Em todos os outros casos, temos o que se convencionou chamar de correlação espúria. Um exemplo. Já demonstraram que, toda vez que um filme com Nicholas Cage é lançado, [ocorrem/se evitam] tragédias. É razoável supor que boa parte da pesquisa científica consiste em procurar aleatoriamente correlações para depois descartar as que forem espúrias.
* * *
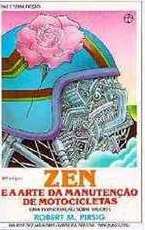
Em Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas (1974), Robert Pirsig narra uma saga de autoconhecimento ambientada numa viagem de motocicleta que empreendeu com seu filho de 11 anos na garupa pelo oeste norte-americano. A parte chata do livro (acreditem que há), mais linear, descreve seu progresso pela paisagem. Em meio a isto, intercala, com profundas incursões pela filosofia (“a mãe de todas as disciplinas”), a degradação de sua crença no método científico e, como ele mesmo chama, na “Igreja da Razão”.
Numa das melhores partes deste discurso fascinante que entremeia seu relato de viagem, Pirsig se debruça demoradamente sobre a origem das hipóteses, a seu ver o calcanhar de Aquiles do método – já que este, em momento algum, fornece qualquer pista sobre o surgimento das mesmas.
” A formação das hipóteses é a fase mais misteriosa do método científico. De onde elas vêm, ninguém sabe. A pessoa está sentada num lugar qualquer, pensando na vida, e de repente – zás ! – passa a entender uma coisa que não entendia antes. Até ser testada, a hipótese não é verdadeira, mas ela não provém de experiências. Origina-se num outro lugar. Disse Einstein:
O homem tenta elaborar para si mesmo, do modo que melhor lhe pareça, uma descrição simplificada e inteligível do mundo. Depois, tenta até certo ponto substituir o mundo da experiência por esse universo por ele construído, para poder dominar toda a natureza… Ele faz desse universo e de sua construção o centro de sua vida emocional, para encontrar, assim, a paz e a serenidade que não consegue dentro dos limites a ele impostos pelo turbilhão da experiência pessoal. O objetivo último a ser atingido é chegar àquelas leis elementares universais a partir das quais o universo foi construído a partir de pura dedução. Não há um caminho lógico que conduza até essas leis; apenas a intuição, baseada no conhecimento afetivo da experiência, pode conduzir a elas…
Intuição ? Afetividade ? Palavras estranhas para descrever a origem do conhecimento científico. “
Pirsig se diverte relatando ter percebido diversas vezes, no laboratório, que o que pareceria ser a parte mais difícil do trabalho científico era, na verdade, a mais fácil. Que ao testar uma primeira hipótese já lhe vinha a mente um verdadeiro enxame de novas hipóteses, as quais, por sua vez, ao serem testadas, conduziam necessariamente a outras – de tal modo que se multiplicariam indefinidamente se não fossem descartadas após cada teste. Em dado momento, chegou a formular, jocosamente, uma lei segundo a qual “o número de hipóteses racionais que podem explicar qualquer fenômeno dado é infinito”.
* * *
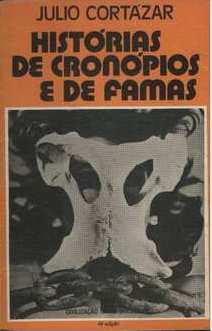
Fuller, em seu livro supracitado, categoriza os entes pensantes em filósofos, cientistas e intelectuais para, então, fazer distinções entre as categorias, tais como Cortázar em Histórias de Cronópios e de Famas (1962). Ainda que Cortázar nunca tenha definido precisamente o que seria um cronópio ou um fama, é improvável que qualquer leitor minimamente sensível não consiga entender ao que ele esteja se referindo ao tipificar, por meio de exemplos, representantes de cada categoria.
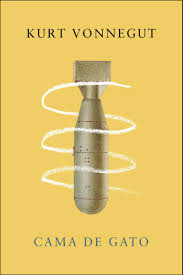
Sei que tais categorias não são estanques entre si, podendo um mesmo indivíduo apresentar simultaneamente traços de mais de uma delas. São, ainda assim, bem úteis para fins didáticos. Tal é o caso, por exemplo, dos autores de ficção científica. Sem se preocupar, enquanto intelectuais, com a fundamentação teórica do que dizem, deitam formulações – como o “gelo 9”, de Kurt Vonnegut, em Cama de Gato (1963), a partir de cuja enunciação cientistas lançam mão de todo seu arsenal teórico para validá-las ou, ao invés, refutá-las.
Nesta longa digressão que se assemelha, no máximo, a um esboço, nada melhor para concluir do que a arrebatadora metáfora de Richard Dawkins, guru maior do ateísmo, que compara, em sua obra Deus, um Delírio (2006), a percepção humana ao que se é dado a ver através da estreita janela de uma burka. As frequências de luz visíveis, por exemplo. Nada suspeitamos do que possa ser “iluminado” por radiações inferiores ao infra-vermelho ou superiores ao ultra-violeta. Do mesmo modo, não enxergamos o que é pequeno demais (o átomo) ou grande demais (a “terra plana”), nem o que se move rápido demais (a luz). Então (conclui), temos que recorrer à ciência para desvendar tudo aquilo que se situa além dos limites de nossa percepção.
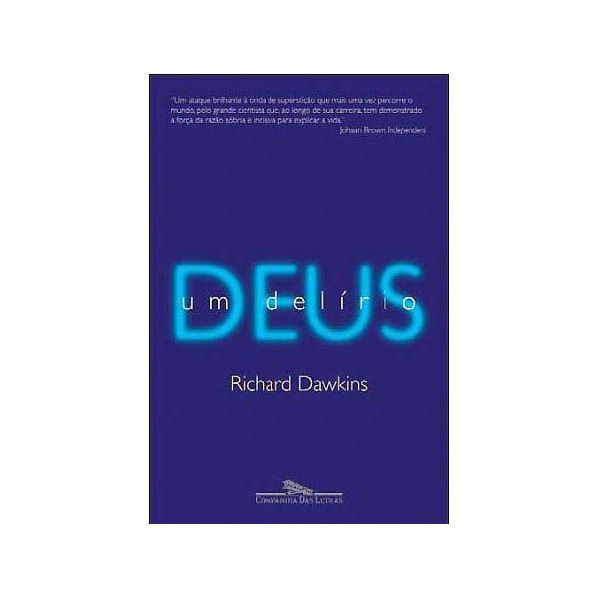
* * *
PS: tenho enorme curiosidade por conhecer o que Dawkins teria a dizer sobre o ceticismo de Pirsig.


“É inerente à noção de genialidade o fato de que ela é prontamente reconhecida em todo gênio por seus contemporâneos.”
Na realidade diversos gênios foram reconhecidos apenas postumamente, vide Bach, Poe, Kafka e tanto outros.
Face ao mesmo, me vi forçado a reformular o argumento para
dada a pluralidade exacerbada de enunciações (artísticas ou científicas) facultada pelos meios de divulgação atuais, é hoje praticamente impossível distinguir o gênio dentre seus contemporâneos – cabendo, portanto, tal tarefa exclusivamente à posteridade.
Premissa que leva, de imediato, à indagação sobre quem será reconhecido, no futuro, como gênio de nossa época.
Uma ótima metáfora para nosso tempo é o ruído branco, a saber, aquele som, semelhante a um chiado, resultante da soma de todos os sons possíveis, no qual se tornam indistinguíveis quaisquer sons “puros” componentes do ruído resultante. Se, sob o domínio dos broadcasting media (aí incluído o “mercado” editorial), a reprodução maciça de enunciados era um privilégio de poucos, é hoje impossível a qualquer inteligência, humana ou artificial, mapear a totalidade de falas que habitam concomitantemente o espaço virtual. Ao menos antes da realização da web semântica perseguida por Lévy.
Por isto, não creio que a identificação dos gênios de hoje seja meramente um problema de julgamento histórico. Sustento, ao contrário, que a genialidade, como elevação do espírito de poucos indivíduos em relação à grande maioria dos de seu tempo, pode, sim, se encontrar em processo de extinção. Para melhor entender como isto ocorreria, é útil nos debruçarmos sobre o mito do homem universal.
Olhando de perto a biografia de tantos gênios, notamos que, frequentemente, sua área de curiosidade transcende os limites de uma única disciplina, transitando, por vezes, até entre os domínios da ciência e da arte. Como o artista e inventor Leonardo da Vinci, o escritor e fotógrafo Lewis Carroll ou o físico e músico Albert Einstein. Até na literatura a amplitude de excelência comparece, mais emblematicamente na figura de um Sherlock Holmes. De pouco importa se Einstein tocasse bem ou mal o violino; se as fotos de Carroll fossem motivadas por uma paixão clandestina que hoje seria vista como franca pedofilia; ou, ainda, se a inquietude de espírito de Holmes pudesse ser atribuída ao vício, hoje proibido, em cocaína. O que tais biografias, reais ou ficcionais, sugerem é que, para as mentes mais agudas, é por vezes difícil se restringir àquilo que convencionamos chamar de ofício. Algo de que a maioria costuma se ocupar por toda a vida e de que deriva o próprio sustento, sem ter tempo para se dedicar mais seriamente (ao menos perante os outros) a qualquer outra atividade. Pois reza o senso comum que, além da profissão (que, até poucos séculos atrás, já foi hereditária), todo foco de interesse restante seja reconhecido, quando muito, como um hobby (mas deixemos de lado, por hora, o fim das profissões – tema complexo a merecer um texto totalmente a ele dedicado).
Por muito tempo, o mito do homem universal enquanto excelente em várias ocupações, idealmente realizado em da Vinci, foi tido como uma exceção numa civilização na qual todo indivíduo não tinha outra possibilidade a não ser optar, por força da competição, por algo no que se especializar. Acreditamos que tal estado de coisas esteja profundamente enraizado em determinantes econômicos. Mas isto não nos interessa tanto.
Interessa, sim, deter o olhar sobre fatores tecnológicos que fizeram com que o mito do homem universal, antes apenas pouquíssimos entre muitos, se tornasse, hoje, muito mais a regra do que a exceção. Interessa, também, notar que
como os limiares para que algo fosse reconhecido como arte se alteraram em contextos mais recentes; e que
como o conhecimento e o imaginário deixaram de ser propriedade de umas poucas mentes para se tornarem objetos compartilhados por inteligências coletivas, ou líquidas.
A arte sempre foi definida e categorizada por técnicas específicas – sendo, portanto, sua tipologia determinada não pelo conteúdo mas, invariavelmente, pela técnica utilizada pelo artista. Deste modo, temos, como grandes categorias, o desenho, a pintura, a escultura, a literatura, o teatro, a fotografia ou a música, entre outras, ficando dicotomias como figurativo/abstrato ou tonal/atonal (associadas ao conteúdo), por exemplo, como classificações secundárias.
Ora, até pouco tempo atrás (mais precisamente até os grandes avanços tecnológicos da segunda metade do século 20) toda técnica devia ser longamente praticada até a obtenção de um domínio razoável a ponto de ser exercido para a criação de obras mais perenes. Por isso, é razoável dizer que as tecnologias computacionais vieram no sentido de facilitar toda e qualquer atividade, facultando, com isto, pela primeira vez, a figura do artista de pronta entrega. Ou alguém seria capaz de dizer que a fotografia com filmes é tão fácil como a digital ? Ou que o projeto arquitetônico era de domínio tão simples antes do CAD ? Ou que fazer um filme antes era tão fácil como fazer um video agora ? Ou, ainda, que era tão fácil escrever antes da recursividade dos editores de texto ?
Mencionei, no post anterior, o fato de vivermos numa era de autoria quase universal. Para que tal condição, facultada por novos meios, existisse, foi necessária uma redução dos patamares antes associados à estatura artística. Da sinfonia ao rap, do grande romance ao tweet ou do óleo ao rabisco, o que vemos em todas as áreas é o encurtamento das formas, a simplificação da complexidade e a legitimização da colagem. Isto não é bom nem ruim mas, simplesmente, uma etapa evolutiva. Fruto, provavelmente, da fragmentação de todo discurso entre múltiplos autores. O que nos permite especular sobre o retorno, talvez, num futuro não muito distante, das grandes formas.
O que quero dizer com isto é que, se antes, por força do tempo necessário ao ao domínio técnico de qualquer arte ou ofício, o mito do homem universal era um privilégio de poucos, hoje, dada a universalização de acesso aos meios, a condição de homem criativo plural se encontra ao alcance de todos. Então, num mundo em que qualquer um pode escrever e publicar, todo portador de um smarphone é um fotógrafo em potencial e um sampler faz de qualquer um um músico, penso, sim, que é bem menos provável do que antes a emergência de sujeitos que venham a ser reconhecidos, por contemporâneos ou pela posteridade, como intelectos privilegiados de nossa época.
* * *