Querelas entre fãs de artistas que atuam ou atuaram num mesmo domínio – como, por exemplo, um mesmo instrumento ou um mesmo gênero musical – são inócuas porquanto intermináveis. Ainda assim, valem a pena por revelarem, como nenhum outro meio, os principais atributos de cada artista defendido. Deveriam, quem sabe, até ser produzidas como reality shows, nos quais competidores aficcionados defenderiam com unhas e dentes as obras, acabadas ou não, de seus ídolos. Seria bem mais divertido, pelo menos, do que dramas de tribunal ou coisas como The Voice.
O primeiro título que me ocorreu para este post foi Explicando (sem, no entanto, justificar) meu gosto musical. Só que, ao sentar para escrevê-lo, achei que pianometria seria mais apelativo. Para ajudar a entender, um pouco de contexto.
Dia desses, provoquei e (toma !) me vi no meio de uma acalorada discussão em rede social sobre quem seria o maior pianista de jazz que já existiu. Ouvidos experimentados e vozes ponderadas por todos os lados. Os pivôs da disputa: Bill Evans e Keith Jarrett. Herbie Hancock também compareceu, e sentimos a falta de admiradores de Brad Mehldau e Chick Corea. A conversa resultante, cheia de piadas e provocações apimentadas, se constitui num ótimo guia auditivo, espécie de mapeamento de campo, para não iniciados – muito embora eu não acredite que existam novatos nessa área.
* * *
É quase sempre mentira quando dizemos que ouvimos algo repetidamente em busca de conhecimento, como se cada nova audição trouxesse uma nova revelação. Ouvimos reiteradamente em busca de prazer. Salvo, é claro, críticos profissionais, que tem que se pronunciar, por força do ofício, sobre um grande volume de música que lhes é, a princípio, estranha. Se escolhemos ouvir de novo sempre a mesma coisa, é por que ela apela para uma parte insondável, posto que inconsciente, de nossa sensibilidade.
Este post é uma tentativa de explicar, para mim mesmo mais do que para qualquer outra pessoa, por que, ao longo da vida, sempre privilegiei ouvir, dentre tantos pianistas de jazz brilhantes, discos de Bill Evans, que desde cedo colecionei, juntamente com alguns de Chick Corea, relegando ao esquecimento obras não menos interessantes como, por exemplo, a de Keith Jarrett, que só agora me dou ao prazer de descobrir. Por força, devo dizer, de recomendações confiáveis de amigos. Também estou fazendo algo que afirmei jamais fazer, a saber, ouvir música enquanto escrevo. Tenho que reconhecer que é bem estimulante.
* * *

As formas em que o jazz se apresenta derivam daquelas praticadas na tradição musical ocidental. No ensaio O jazz do rag ao rock (Editora Perspectiva/Série Debates, 1975), Joachin Berendt aponta que as formas paradigmáticas do blues (12 compassos) e da balada (32 compassos) derivam, tanto na estrutura métrica como no plano tonal, respectivamente, da ária da capo e da forma sonata.
Prefiro, no entanto (até para poder incluir na amostra formas mais, digamos, relaxadas), reconhecer o jazz como incorporando conceitos mais genéricos da tradição erudita, tais como exposição, reexposição, desenvolvimento, variação, contraponto e harmonia – os quais são muito úteis quando se trata de entender sua(s) forma(s). Aqui, um adendo se faz necessário: nunca entendi por que, em currículos musicais, contraponto e harmonia são ensinados em disciplinas diferentes, como se fossem entidades autônomas, independentes entre si. Mas isso é outra história.
A tradição da improvisação, presente na música ocidental até o barroco e que praticamente desapareceu no classicismo e no romantismo em razão da expansão exacerbada das formas musicais, as quais passaram a exigir muito mais controle composicional, foi restaurada no século 20 como principal atributo definidor do jazz.
Durante todo o período da história da música conhecido como de “prática comum” – que vai do barroco ao romantismo, passando pelo classicismo, e que teve importantes representantes durante todo o século 20 (salvo a segunda “escola” de Viena e a de Darmstadt) e, em alguns casos, até hoje – compositores trabalharam com formas largamente pré-fixadas, métrica e tonalmente, de modo a poder jogar com a expectativa (ou frustração da mesma) do ouvinte em relação ao que ouvirá em seguida. De maneira que, tanto em gêneros clássicos como na maioria do jazz que se ouve, sempre é possível se ter uma ideia de onde nos encontramos no percurso que vai do início ao fim de uma música.
Mas isto não permaneceu sempre assim. Tanto na música improvisada como na pré-composta, houve importantes experimentos no sentido de driblar a expectativa do ouvinte, tento pela ampliação do leque de possibilidades como pela total obliteração de qualquer senso de posição, num dado instante, em relação à forma total de uma obra. Isto quer dizer que, enquanto para a melhor fruição de uma peça clássica ou de jazz tradicional é crucial que o ouvinte saiba a cada momento onde está, para todos aqueles compositores que se rebelaram contra a ditadura da forma, não.
Para tanto, utilizaram meios os mais diversos. Não vou aqui me deter em explicar detalhadamente como tal obliteração da percepção auditiva de forma foi obtida, nem na música pré-composta, pelo recurso a fórmulas rigorosas como o serialismo (dodecafônico e integral) ou mesmo a aleatoriedade controlada; nem tampouco na música improvisada, através da liberdade formal inaugurada com o Free Jazz (1961) de Ornette Colleman – disco que até hoje tenho, confesso, muita dificuldade em ouvir.
Mas basta, por hora, de teoria. Já temos o bastante para entender por que não dá para comparar quantitativamente Evans com Jarrett. Seria como comparar, sei lá, samba com tango ou, ainda, determinar se Mozart é melhor do que Beethoven (só para citar dois epígonos que usaram as mesmas formas) ou vice-e-versa. Pois Jarrett e Evans tocam coisas bem diferentes, segundo ideais completamente distintos. Abaixo, procuro descrever a música de ou e de outro.
* * *

Ao longo de sua breve carreira, Bill Evans (1929-1980) improvisou repetidamente sobre um número assombrosamente pequeno de temas que lhe serviam de plataforma. Do mesmo modo, dir-se-ia, que um intérprete clássico dedicado a um repertório redundante no qual se especializou. Assim, suas versões dos mesmos temas, grande parte das quais registradas em apresentações ao vivo, apresentam uma sofisticação progressiva. Vale a pena comparar, por exemplo, os sets com seu lendário trio no Village Vanguard, em 1961, com aqueles derradeiros, registrados no mesmo templo novaiorquino do jazz poucos meses antes de sua morte prematura em decorrência do uso abusivo de drogas.

Enquanto sua improvisação em 1961 é desnuda, esqueletal, os takes de 1980 soam notavelmente mais elaborados. É como se, nos últimos, cada música parecesse ter sido pré-composta ao longo de sucessivas visitas aos mesmos temas.
Em todas as suas execuções, Evans se dedicou a explorar sistematicamente um número incrivelmente reduzido de baladas – formas repetidas de 32 compassos com planos tonal e métrico rigidamente pré-definidos, no esquema tradicional exposição-variações improvisadas-reexposição, onde cada variação (chorus, em terminologia jazzística) segue exatamente o mesmo desenho harmônico e métrico do tema apresentado na exposição e na reexposição. A adesão a esquemas pré-compostos em Evans é tamanha que até suas codas (epílogos) são as mesmas para cada tema revisitado.
Neste contexto de ampla adesão às estruturas rigidamente pré-determinadas, chama a atenção a escolha de uma plataforma de improvisação em que seu discurso assume um caráter aparentemente mais livre – a saber, em Nardis, de Miles Davis. Uma análise mais atenta revela, no entanto, que até Nardis, apesar de sua harmonia modal e plano modulatório restrito, é, métrica e tematicamente, uma balada. Ainda que uma balada singular (i.e., uma balada de Miles Daivis), com quatro frases de mesma duração seguindo um esquema temático AABA.
Em Nardis, não há nenhuma modulação propriamente dita, já que a ideia B (na tonalidade relativa maior, uma terça acima) surge repentinamente, sem que a repetição da ideia A (contida na tônica, menor) a ela conduza por meio de um processo modulatório. Como, se quiserem, na forma ternária ABA’ da aria da capo, matriz paradigmática do blues. Neste caso, a sensação de que Evans possa ter se afastado temporariamente de suas tão caras formas pré-estabelecidas se deve primordialmente ao fato de que, em Nardis, improvisa sem a marcação ostensiva do ritmo por seu trio, o que contribui para obliterar auditivamente a percepção formal e, com isto, sugerir que ele possa estar, excepcionalmente, explorando uma forma livre.
Em termos de expectativa por parte do ouvinte, podemos, então, afirmar que a única dúvida deixada em aberto em relação à forma do que é ouvido em suas execuções é o número de variações improvisadas (choruses) que serão executadas até que o tema seja, finalmente, reapresentado. Tal forma é uma convenção conhecida por todo ouvinte de jazz, experiente ou novato, dela dependendo a própria inteligibilidade do discurso.
Nutro uma compreensível reserva (cautela, até) em relação a transposições analógicas entre diferentes campos – como, por exemplo, entre música e artes visuais ou, ainda, entre arte e ciência. Mesmo assim, vale a pena traçar uma analogia entre o discurso de um improvisador em formas pré-fixadas com o raciocínio de um enxadrista experimentado, que “enxerga” várias jogadas à frente para melhor avaliar sua estratégia e a do adversário. Deste modo, é razoável se supor que improvisarão melhor aqueles músicos que, como os grandes enxadristas, conseguirem antecipar mais movimentos à frente.
Isto equivale a dizer que a improvisação sobre formas pré-determinadas é um exercício profundamente calculista, no qual toda espontaneidade, conquanto igualmente necessária, precisa ser equilibrada por uma noção exacerbada, a cada instante, de localização em relação ao todo. Neste contexto, faz muito sentido a inspirada constatação, por Paulo Moreira numa audição comentada, de que Evans tinha cara de professor de matemática.
Outro mestre neste tipo de improvisação foi Oliver Nelson, cujos choruses pareciam, como os de Evans, terem sido totalmente pré-compostos, tamanha a consistência do desenvolvimento motívico nos mesmos. Com o “agravante”, no caso, de que, ao saxofone (i.e, com uma só voz), isto não é pouca coisa.
* * *
Em contraste, Keith Jarrett pode ser definido como um grande improvisador que se entrega de corpo e alma a formas livres que muitas vezes escapam à consciência do ouvinte. Mais: a localização a cada instante em relação ao todo, como por meio de um GPS, é absolutamente irrelevante para a apreciação de sua arte – a qual se baseia, sobretudo, no contraponto, com cada ideia sendo explorada por um tempo indeterminado até que surjam novas ideias ou, mais raramente, modulações.
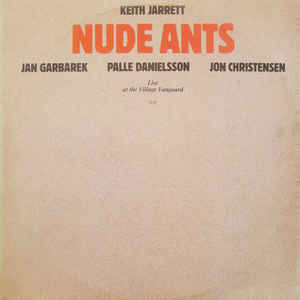
Modulações (mudanças de tonalidade) em Jarret merecem um olhar mais demorado. Se restringirmos nossa amostra exclusivamente a suas execuções em grupo (principalmente aquelas para o selo ECM, nas quais desfrutou de uma autonomia criativa sem precedentes na indústria da música popular), um ouvinte apressado poderia facilmente concluir que, em Jarrett, elas simplesmente não acontecem, já que peças inteiras ou até lados inteiros de um disco se constituem em improvisações sobre uns poucos ou mesmo um único acorde. A tal ponto que, quando acontecem (como, por exemplo, nas modulações contínuas em Sunshine Dance, última faixa do álbum duplo Nude Ants (1981), tão bem apontadas por Fernando Corona) de pronto se convertem num fato digno de nota.

Isto não quer dizer que, em seu estilo, as modulações sejam sempre raras. Em Staircase (1976), Jarrett tira grande proveito do contexto de piano solo, no qual não precisa comunicar a parceiros suas intenções modulatórias imediatas – necessidade, outrossim, inexistente quando do uso de formas harmônica e metricamente pré-determinadas compartilhadas a priori por todos os executantes.
Isto tudo quer dizer que, numa execução madura de Jarrett (i.e., descartados os anos iniciais), é impossível ao ouvinte antecipar por quanto tempo ele vai se deter sobre qualquer ideia antes de avançar em direção à próxima. Nem tampouco prever, com antecedência e/ou exatidão, quando uma música vai terminar. Isto NÃO quer dizer que sua música seja, de algum modo, amorfa – já que, em retrospectiva, sempre temos uma noção clara do caminho que foi percorrido. É como embarcar numa viagem sem conhecer previamente o trajeto nem tampouco onde se vai chegar. Pois, para Jarrett, o percurso é nitidamente mais importante do que o destino.
* * *
Dito isto, fica evidente que não procede comparar as músicas de um e de outro. A desenvoltura com a qual ambos se dedicam a seus gêneros preferenciais, deceptivamente agrupados pelo enorme arcabouço semântico que é a definição de jazz, os qualifica igualmente como gênios.
Detesto teogonias. É absurdo comparar quantitativamente quaisquer realizações artísticas. Podemos, talvez, no máximo, tentar acessar a extensão da influência de cada um sobre seus contemporâneos e sucessores. Comparações qualitativas são, por outro lado, tão lícitas quanto necessárias em se tratando de compreender melhor diferentes linguagens pessoais. A ponto de podermos advogar, para o aprofundamento de nosso entendimento de quaisquer manifestações criativas, em favor da existência de uma modalidade de apreciação comparada, na qual obras avulsas ou conjuntos de obras iluminariam a singularidade de outras. Por isto, gosto de pensar em reflexões como as deste texto como exercícios em escuta comparada.
Dito isto, não vejo problema algum em reconhecer que obras de diferentes artistas podem exercer graus diversos de atração sobre cada indivíduo – os quais muitas vezes não tem, por sua vez, uma consciência exata de por que preferem isto ou aquilo. Então, esta longa digressão foi apenas uma viagem de auto-conhecimento ou, se quiserem, uma tentativa de entender por que prefiro ouvir, incondicionalmente, Bill Evans a Keith Jarrett.
Minto. Incondicionalmente não. Por que acabo de descobrir que, enquanto a direção inexorável das formas clássicas, nas quais incluo execuções como as de Evans, exigem imperiosamente minha atenção exclusiva, acabo de descobrir que música atemporal como a de Jarrett, que pode tanto permanecer harmonicamente imóvel pelo tempo que se queira como percorrer indefinidamente paisagens as mais diversas sem nada que a obrigue a chegar num ponto de repouso, é ótima para ser ouvida enquanto se faz outras coisas.
Disclaimer à guisa de epílogo: é quase desnecessário dizer que, para outros que não eu, pode se dar exatamente o oposto àquilo a que me referi no parágrafo acima, i.e, podem muito bem preferir ouvir concentradamente música errática, deixando a mais direcional para ruído de fundo enquanto executam outras tarefas tais como ler ou escrever. São opções bem pessoais – determinadas, como eu disse, por motivos insondáveis – que não desmerecem um tipo de música nem o outro. Mesmo que seja impossível não reconhecer a distinção tão gritante entre os mesmos.
