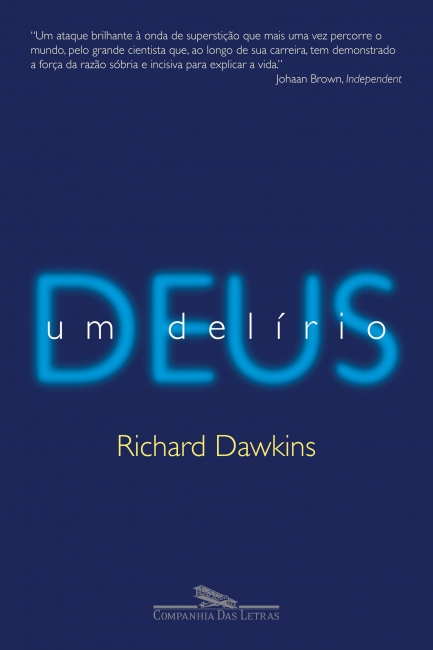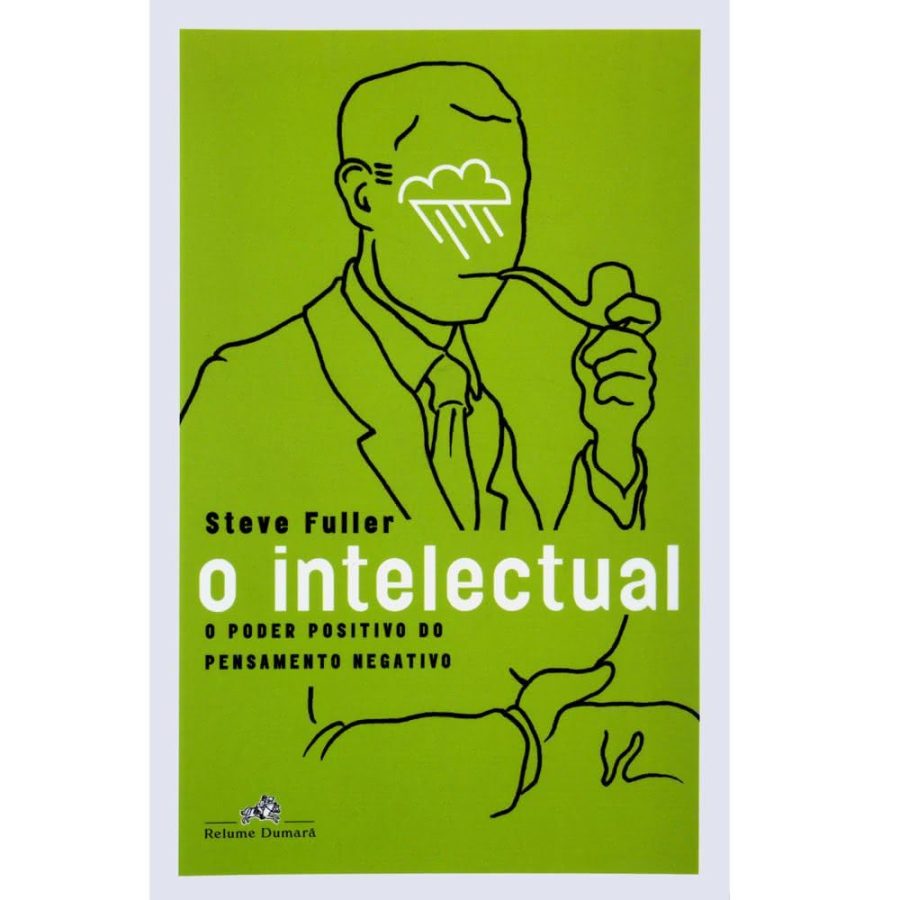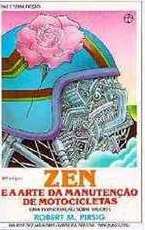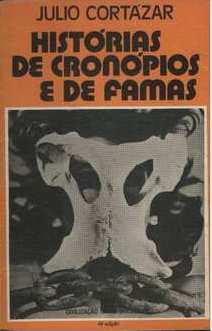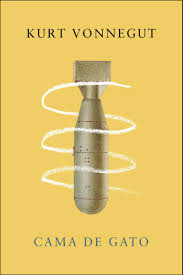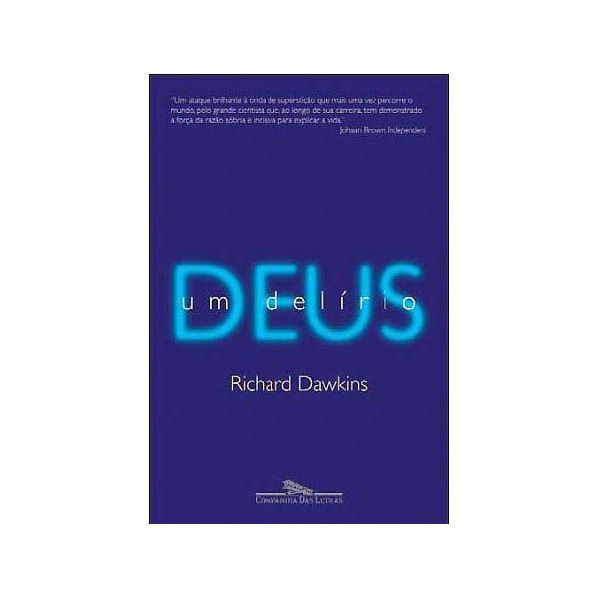Desde muito cedo me acostumei com a ideia de que só se conhece um grande escritor a partir de seu segundo livro, depois que transcende o relato autobiográfico. Noves fora o fato de um autor poder muito bem criar histórias a partir da própria fantasia antes de cometer seu primeiro texto confessional, entendo hoje que tal crença não passa de um mito. Noutras palavras: a qualidade de um texto não depende de sua inspiração ter saído da fantasia do autor ou de sua própria experiência pessoal ou de outros fatos reais.
Ao pensar em obras magistrais baseadas em experiências pessoais de seus autores, me veio imediatamente à mente os contos de Lucia Berlin, publicados postumamente, ou os 6 volumes (apenas 4 deles traduzidos para o português) da saga A Minha Luta, de Karl Ove Knausgard. Outros textos aportados como autobiográficos por Maria de Abreu, Luciana Etchegaray e Marcelo Borba, são, respectivamente, O Idiota, de Fiódor Dostoiévski, Memorial de Aires, de Machado de Assis, e Ecce Homo, de Friedrich Nietzsche.
* * *
É claro que as duas categorias (fantasia X realidade (autobiográfica ou não)) não são mutuamente excludentes, i.e., provavelmente na maioria dos casos o texto resultante é um amálgama de criações fantasiosas mescladas com pitacos de experiência pessoal do autor ou de outrem.
A componente real de cada obra de ficção é, no entanto, geralmente difícil de ser identificada, posto que advinda de episódios da vida privada de cada autor ou de terceiros nem sempre explicitados em biografias de domínio público. Até por isto, constituem uma espécie de eixo temático preferencial em textos críticos especulativos. Ou seja, são objeto favorito de teses e resenhas.
São comuns, por exemplo, histórias que partem de fabulações sobre a vida e/ou a obra de personalidades históricas. De certo modo como os docudramas e algumas cinebiografias mais licenciosas. Há, nesta categoria, uma obra prima que se ergue sobre a maioria das outras: Doutor Fausto, de Thomas Mann, cuja trama alude a inovações musicais introduzidas por Arnold Schoenberg. Só que o livro é, sob muitos aspectos, maior do que o argumento de partida que Mann tomou emprestado. Bem maior. Pertence ainda a esta região híbrida, entre a realidade e a ficção, a novela O Ruído do Tempo, de Julian Barnes, inspirada na vida de Shostakovich.
Interessantíssimo, também, o experimento literário A Literatura Nazista na América, de Roberto Bolaño. Nele, o autor cria um relato totalmente fictício emulando o estilo de uma obra de não ficção, a saber, uma antologia de biografias, só que de personagens totalmente imaginários. Uma obra singular que tenta, de algum modo, borrar, ainda que artisticamente, a outrossim rígida fronteira entre as categorias mutuamente excludentes da ficção e da não ficção.
Tão bom é o exercício estilístico de Bolaño, supracitado, que um leitor desavisado bem poderia “arquivá-lo” numa estante junto a obras de não ficção. Aqui me assola um pensamento aleatório, descomprometido, passível de desenvolvimento posterior: já se deram conta de como o ato de posicionar um livro numa coleção equivale, de certa forma, a domesticá-lo ? Fecha parêntesis.
A possibilidade, a que aludo no parágrafo anterior, de que uma obra seja inadvertidamente classificada junto a outras que não tenham nada a ver com seu teor me traz de imediato à memória um fato divertido, ao qual devo meu primeiro contato sério, porquanto primário, com a obra de Richard Dawkins, guru mor dos ateus. Estava eu fazendo hora num shopping quando avistei, na vitrine de uma livraria religiosa, o livro Deus, um Delírio, de Dawkins, de quem, até então, somente tinha ouvido falar. Ora, era evidente que a obra estava ali por acidente, pois era totalmente alienígena em relação ao restante do acervo da livraria. Provavelmente, o livreiro, induzido pela ambiguidade do título (lembram da igreja Brasas – louvor e adoração ?), o tomara por um texto apologético. É claro que resgatei imediatamente o pobre volume daquele contexto hostil à sua essência, o comprando e devorando em tempo recorde. Os argumentos de Dawkins são avassaladores. Mas já estou falando de não ficção. Melhor deixar para depois. Fecha outro parêntesis.
* * *
Este é um mito complicado de ser reconhecido, principalmente por que as narrativas oriundas da fantasia de seus autores (total ou parcialmente, como vimos acima) são mais numerosas do que as predominantemente autobiográficas ou inspiradas por fatos reais. Muito mais. Passando os olhos pelas lombadas dos livros na estante, há mais obras de ficção criadas a partir da fantasia de seus autores do que derivadas de suas experiências pessoais ou de outrem. Vários fatores contribuem para este estado de coisas.
Inicialmente, o fato de que toda escrita profissional, enquanto atividade que se estende por grande parte da vida de um autor, por vezes durante toda ela, implica numa produção continuada. Ora, isto é incompatível com a utilização sistemática e exclusiva de experiências vividas como ponto de partida – por que, afinal, biografia, por mais rica que seja, cada um só tem uma. Face a este impasse, a fantasia se constitui como um recurso inesgotável e, portanto, irresistível.
Contribui também para a hegemonia esmagadora de histórias fantasiosas, total ou predominantemente, o fato de ser impossível a qualquer autor se referir a coisas como, por exemplo, pessoas que voam, animais que falam ou consciência pós morte sem recorrer à imaginação.
* * *
Há um gênero de ficção exclusivamente composto de narrativas fantásticas, a saber, a ficção científica, com todos os seus subgêneros (obrigado, Nikellen: sem você eu jamais saberia que existe algo chamado steampunk !).
A dicotomia entre o real e o imaginário (categorias, como vimos, por vezes superpostas) não se aplica, evidentemente, à literatura de não ficção, exclusivamente devotada ao universo experimental. Senão, estaria incorrendo, voluntariamente ou não, num certo tipo de falsidade ideológica. Como frequentemente ocorre em textos proselitistas tais como, por exemplo, os publicitários e panfletários.
* * *
Falando assim, pode parecer que eu não reconheça valor em narrativas exclusiva ou predominantemente advindas da imaginação. Longe disso. A fantasia sempre foi, é e sempre será um valioso recurso disponível para escritores tecerem suas histórias. O que se torna problemático é quando a imaginação por si só se torna um indicador de qualidade literária valorizado de forma exacerbada, muito mais do que outros igualmente importantes. O mito a que me refiro é, portanto, o de que histórias baseadas primordialmente em dados de realidade, sejam elas derivadas da própria experiência pessoal de seus autores ou não, são, por definição, inferiores àquelas onde a fantasia corre solta. Noutras palavras, o que quero dizer é que importa menos se os ingredientes são reais ou fantásticos do que, propriamente, aquilo que um autor faz com eles.