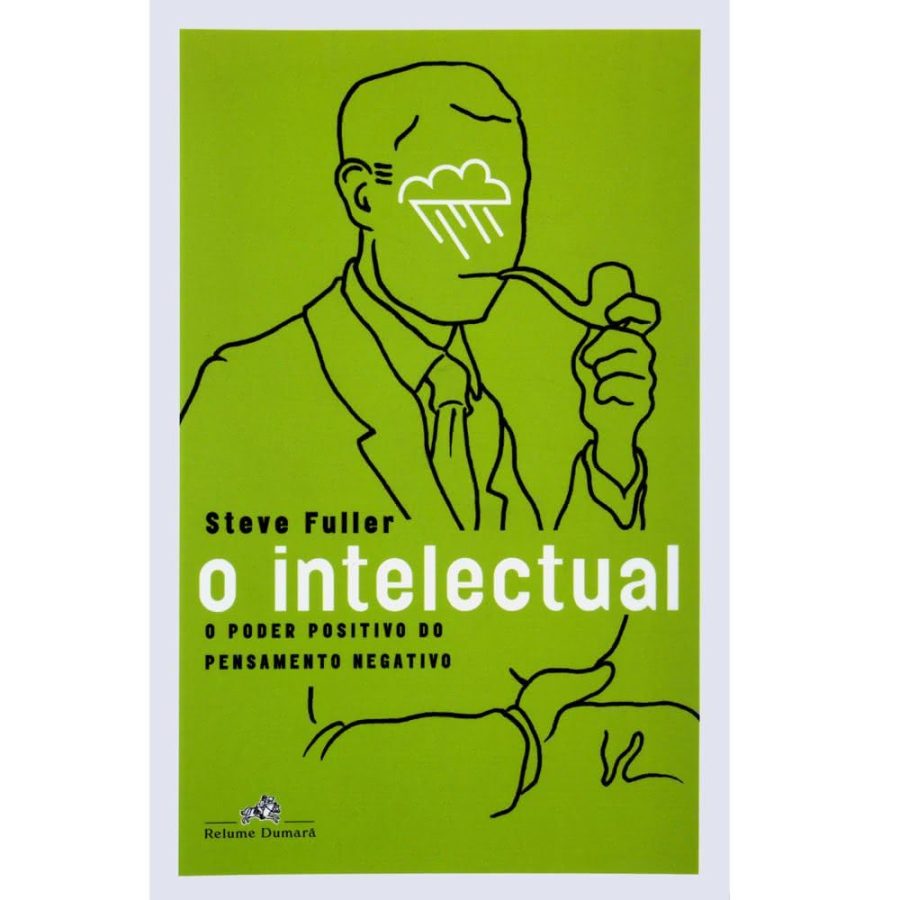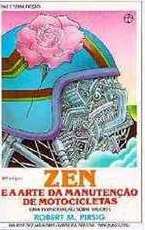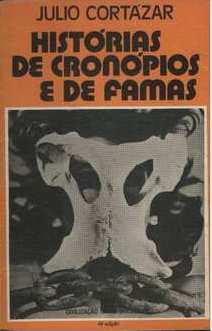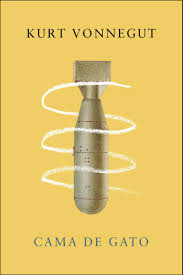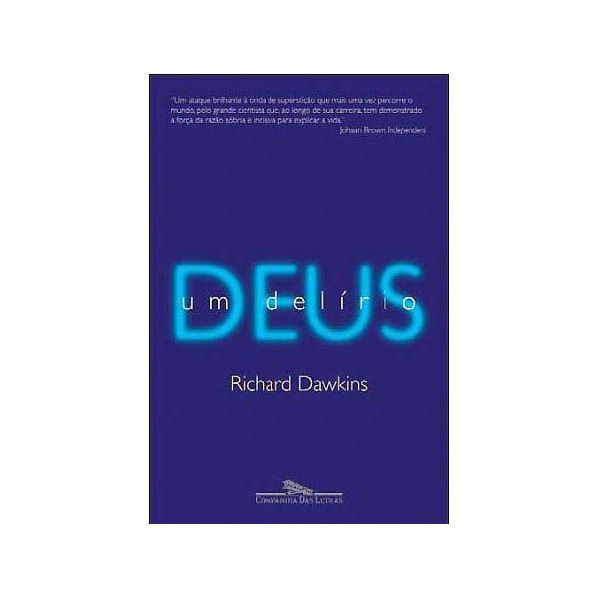“O intelectual é o eterno irritante; ele é o grão dentro da ostra da qual a humanidade – esperemos – emergirá como uma pérola.”
Steve Fuller, em O Intelectual
Estamos aqui claramente diante de mais uma não resenha – ou, se preferirem, anti-resenha. Explico. Dentre os livros que nos caem nas mãos, há uma categoria que reúne todos aqueles que se afiguram como demasiado complexos para nossa compreensão. Como, por exemplo, Austeridade – A História de uma Ideia Perigosa (2013), de Mark Blyth, cujo argumento fascinante não foi, todavia, suficiente para que eu, abatido pela flagrante insuficiência de conhecimento econômico, persistisse em sua leitura.
O Intelectual (2005), do filósofo Steve Fuller, claramente pertence a este grupo de obras que desafiam nossa compreensão, desta vez por uma virtuosa combinação de pressupostos filosóficos (vai dos gregos aos dias de hoje) com uma linguagem compacta, com altos índices de síntese e densidade lógica. Só que, desta vez, não me deixei intimidar pela incompreensão inicial de muitas passagens (a bem dizer, a maioria delas), chegando diligentemente ao final tão somente para reiniciar imediatamente a leitura, desta vez mais pausada e sublinhando muita coisa importante que, na pressa da primeira leitura, acabara deixando para trás.
Grandes obras são assim, abertas, revelando novas nuances a cada releitura, principalmente de acordo com o amadurecimento do leitor. Não envelhecem com o passar das décadas mas, ao contrário, se resignificam e, com isto, enriquecem. Querem um exemplo ? 2001, de Kubrick, que vi pela primeira vez na adolescência, quando foi lançado, e que até hoje me fascina e intriga.
* * *
Devo confessar, inicialmente, que o que me atraiu em O Intelectual foi seu singular subtítulo, “o poder positivo do pensamento negativo”, que de imediato me soou como a antítese de uma manual de autoajuda. Espécie de Paulo Coelho (de quem só conheço a reputação, pois nunca li) às avessas ou, no mínimo, um elogio à rabujice. Caí na cilada. Isto por que tal locução – provavelmente a interferência de algum editor na tentativa de conferir glamour a uma obra outrossim hermética, destinada a especialistas – sequer pertence ao título original. É bem verdade que o título poderia ser, como é comum em textos filosóficos, O Elogio do Intelectual – mas devemos reconhecer que, neste caso, seria bem menos apelativo. Façamos, pois, esta pequena concessão ao marketing.
Sou assim. Me encanto facilmente com promessas, por vezes elusivas, contidas em nomes de livros. Às vezes me dou bem, cavocando tesouros como Bullshit Jobs: a Theory, de David Graeber, ou The Slow Professor – Challenging the Culture of Speed in the Academy, de Berg & Seeber. Noutras, nem tanto, como no supracitado Austeridade. No presente caso, deve ser dito, em favor do criativo e atraente subtítulo aposto à edição brasileira de O Intelectual, que a expressão, mais do que uma nota de orelha rabiscada às pressas, ao menos denota a impressão de que só pode ter sido imaginado após uma leitura extensiva e dedicada dos argumentos de Fuller.
* * *
A primeira coisa que o autor declara, na introdução, é que “O Intectual segue de certa forma a estrutura de O Príncipe, de Maquiavel, o famoso livro de conselhos do século 16 sobre a arte de governar”. De fato, o tom aforístico (“o príncipe/intelectual deve…”) é o mesmo. Mas termina aí qualquer semelhança. Pois, enquanto o livro de Maquiavel, em que pese a ácida perspicácia do autor, tem uma linguagem direta e unívoca, capaz de ser entendida por qualquer escolar (sem dúvida um atributo invejável em textos de teor filosófico), já O Intelectual, não. Nele, frases longas, com argumentos complexos ricamente detalhados, são uma constante – de tal modo que é praticamente impossível alcançar uma compreensão mínima do que recém foi lido sem retroceder frequentemente ao início de cada frase ou parágrafo. Não se deixem, portanto, enganar pela aparência: se trata de um livro curto (ca. 150 páginas), mas de leitura demorada.
Provavelmente o melhor modo de transmitir uma visão global d’O Intelectual seja através de seu sumário. Não riam – pois, porquanto a frase anterior possa parecer francamente tautológica, índices são amiúde elusivos. Tal não é o caso, no entanto, n’O Intelectual, onde cada tópico representa da forma mais clara possível o que encontraremos em cada seção. Ao sumário, então.
O livro é dividido em 3 partes de aproximadamente 50 páginas cada uma. Na primeira, são apresentadas quatro teses sobre intelectuais, a saber, (1) que intelectuais nasceram de pé atrás; (2) que intelectuais sofrem de ligeira paranoia; (3) que intelectuais carecem de uma plano de negócios e (4) que intelectuais procuram a verdade total. A segunda consiste num longo diálogo entre o intelectual e o filósofo. Na terceira, são respondidas perguntas usuais sobre intelectuais como, por exemplo, “Como o intelectual adquire credibilidade ?”, “O que leva o intelectual a escolher uma causa para defender ?” ou “Por que os intelectuais parecem prosperar no conflito ?”. Esta parte inclui, também, uma tipologia dos intelectuais e seções francamente aforísticas sobre “Como intelectuais devem se relacionar [respectivamente] com políticos, acadêmicos, cientistas e filósofos”. É nestas últimas que Fuller melhor estabelece, em contraste com as supracitadas categorias de pensadores (aqui entendidos não no sentido restrito de filósofos mas mais abertamente, como homens de ideias), uma definição por aproximação do que vem a ser, afinal, um intelectual.
* * *
Como já disse, a leitura de O Intelectual pressupõe o conhecimento prévio, ou pelo menos uma visão abrangente, da história da filosofia, de Sócrates e Platão às escolas contemporâneas, passando pela Idade Média, pelo Iluminismo e pelos idealistas alemães, até chegar à ruptura do bloco socialista, ao neoliberalismo e ao terrorismo – conceitos e categorias aos quais Fuller, em sua linguagem compacta, se refere constantemente sem, no entanto, explicar a não ser por definições ultra sintéticas, de difícil compreensão para não portadores, como eu, de uma formação filosófica ampla e detalhada. Reflexões sobre o espírito da ciência de cada época também são uma constante no texto.
Dentre as passagens mais significativas com que me deparei na primeira parte, destaco:
o esforço de reabilitação dos sofistas, opositores clássicos de Sócrates, cuja dimensão podemos depreender de passagens como
“O sinal mais evidente de que os juízos históricos dificilmente voltam atrás é o destino de grupos específicos que dão nome a vícios e deficiências da humanidade em geral: “hunos” e “vândalos”, “anarquistas” e “fascistas” são alguns deles. Para o intelectual, o mais relevante grupo dessa categoria é constituído pelos “sofistas”, os grandes reivindicadores da razão nos tempos da antiga Atenas.”
ou
“[…] reabilitar os sofistas atualmente está fadado a se tornar uma luta inglória.”
Não obstante, é precisamente o que Fuller faz ao longo de mais de dez páginas, que incluem pérolas como
“No mundo de hoje, os sofistas estariam à vontade em seminários de treinamento de gerência de negócios e escrevendo livros de autoajuda. Um Sócrates moderno teria rotulado tais indivíduos como “gurus” e reclamado por suas obras estarem pressionando por mais espaço nos currículos universitários e nas seções de “filosofia” das livrarias.”
Ainda na linha das reabilitações, o autor dedica especial atenção às teorias conspiratórias, as quais chega mesmo a considerar – em especial na tese de que os intelectuais sofrem de ligeira paranoia – como ferramentas essenciais a seu trabalho.
Além da paranoia estrutural, inerente a todo intelectual, Fuller também discute, na primeira parte, questões como
o ceticismo, em
“Enquanto a razão for exercida de forma desigual pela humanidade, o intelectual se oporá a tudo em que acredita a maioria das pessoas, provavelmente sob o jugo de um poder dominante.”
a responsabilidade negativa (i.e., a responsabilidade por aquilo que não se fez, mas que deveria ter sido feito), emblemática do julgamento do nazista Adolf Eichmann;
a obsolescência planejada de Henry Ford a Bill Gates, Steve Jobs e o mercado editorial;
o direito autoral;
a distinção semântica entre “toda a verdade” (posição mais liberal, assumida por intelectuais, que admite a dúvida e, consequentemente, a possibilidade de erro) e “só a verdade” (posição mais conservadora, equivalente a “nada além da verdade”, que exclui qualquer dúvida) arraigada à história do pensamento ocidental e, principalmente, à cultura jurídica;
a imaginação enquanto instrumento de revelação da verdade e
o mito da infalibilidade científica.
No extenso diálogo em que o intelectual é sabatinado pelo filósofo, o primeiro, entre outras coisas,
explica por que
“[…] o único meio confiável para se chegar à verdade é a crítica”;
categoriza os filósofos contemporâneos como “continentais” (franceses e alemães), que reciclam o pensamento de mestres do passado, e “analíticos”, que se expressam primordialmente em língua inglesa;
justifica sua restrição ao “texto difícil”;
manifesta sua preferência incondicional pela abrangência em relação à profundidade em passagens como
“Um intelectual genuíno suspeita da ideia de que exista somente um caminho ou pelo menos um número limitado de rotas para uma verdade supostamente de importância universal.”
e
“Qualquer coisa que valha a pena ser dita pode ser dita em outras palavras.”
Além disso, fala da universidade, das ciências sociais e da redundância inerente à pesquisa científica (fenômeno identificado e batizado como “conhecimento público não descoberto” por Don Swanson, bibliotecário da Universidade de Chicago, que demonstrou que
“[…] o problema principal da pesquisa médica pode ser localizado, ou até mesmo resolvido, através de uma leitura sistemática da literatura científica. Entregue a si mesma, a pesquisa científica tende a se tornar cada vez mais especializada e abstraída dos problemas do mundo real que a motivaram e para os quais continua a ter importância. Isso sugere que tal questão pode ser resolvida efetivamente não contratando ainda mais pesquisas, mas assumindo que parte ou toda a solução já se encontra em várias publicações científicas, à espera de alguém querendo ler através das diferentes especialidades.”
Este ponto me é especialmente caro, já tendo me debruçado sobre o mesmo, ainda que indiretamente, aqui (no sexto parágrafo) e aqui.
A terceira parte é aquela cuja leitura flui melhor. É nas quatro seções dedicadas ao modo como o intelectual deve se relacionar com, respectivamente, políticos, acadêmicos, filósofos e cientistas que Fuller melhor descreve o ressentimento mútuo nutrido entre intelectuais e cada uma das categorias de pensadores acima, em relação às quais chega a ser, por vezes, particularmente sarcástico. Como, por exemplo, em
“[…] os políticos se vêm tentados a descartar ou a adiar decisões de modo a permitir-lhes escapar a potenciais colapsos.”;
“[acadêmicos e intelectuais] se vêm com mútua suspeita. Cada um trata o outro como um atravessador que inunda o mercado com produtos inferiores. [Os acadêmicos] consideram intelectuais impressionistas em suas observações, tendenciosos em seus julgamentos, descuidados em suas pesquisas e parasitas do trabalho dos outros – esses outros, naturalmente, outros acadêmicos. […] Os acadêmicos parecem preocupados com pelo menos três coisas: receber o crédito devido a seu trabalho, proteger seu trabalho contra desvalorização e, mais sutilmente, justificar a própria necessidade do trabalho. Esta última preocupação admite a possibilidade de que intelectuais possam reduzir argumentos acadêmicos complexos a pontos-chave e criar um contexto que lhes atribui uma significância capaz de atrair uma audiência bem maior do que a que os acadêmicos conseguem reunir.”;
“Os textos acadêmicos são muito mais interessantes graças às notas de rodapé do que pelo argumento principal – isto é, mais pelo que consomem do que pelo que produzem.”;
“Os cientistas são os adversários mais falaciosos a ser enfrentados em público. […] são tidos como especialistas nas áreas que pretendem dominar e mesmo em outras mais. Todas estas características, que depõem a favor da credibilidade “prima facie” dos cientistas, colocam o intelectual em verdadeira desvantagem.”;
“De modo geral, os filósofos asseguram sua autoridade intelectual transformando cada disputa substantiva em outra logicamente anterior sobre o significado de alguma palavra-chave avaliativa, tal como ‘verdadeiro’ ou ‘bom’.”
Para o leitor, fica claro que o intelectual, um irremediável intruso em qualquer destes grupos, não nutre, todavia, qualquer ressentimento por sua exclusão. Entende sua crítica independente como necessária ao aperfeiçoamento social e não se importa em ser amiúde e francamente atacado. Isto fica perfeitamente claro em
“[…] os intelectuais são inerentemente autodestrutíveis: ajudam a criar a competição contra eles mesmos, quando advogam educação em massa, leitura de jornais e debate público. Num determinado sentido, encorajam outros a seguirem seus atos, não suas palavras: melhor criticarem o que digo do que repetirem o que digo sem crítica. Talvez isto explique por que os intelectuais se distinguem dos acadêmicos, dos empresários e dos políticos. Eles não se importam quando lhes apontam um erro, desde que lhes reconheçam o direito de errar no presente e no futuro. Essa é a melhor forma de entender a máxima muitas vezes atribuída cinicamente aos intelectuais: ‘Não há nada pior do que a publicidade; porém, ser ignorado é o mesmo que a morte.'”
Mais sobre a hostilidade frequentemente dirigida a intelectuais:
“A crítica raramente é bem recebida, principalmente se vier de intelectuais. Eles procuram atingir não simples ideias ou proposições, mas blocos inteiros de pensamento, que, no calor da discussão, são confundidos com seus defensores. Por isso, a crítica de um intelectual é muitas vezes vista como um ataque pessoal. Como revanche, eles se tornam os mensageiros que são mortos por conta de suas mensagens. Você não é formalmente repudiado – é apenas “reapropriado”. Na verdade, você fica sabendo que é um intelectual quando é denunciado em discursos ou plagiado nos escritos.”
* * *
Se fosse para apontar uma única deficiência em O Intelectual, ao menos em sua edição brasileira (Relume, 2006), seria esta, indiscutivelmente, a falta de um índice onomástico. Se trata, muito mais do que uma falha autoral, de uma de seus editores. Pois, numa obra em cuja leitura, conquanto breve, desfilam diante de nossos olhos centenas de nomes, desde aqueles pivotais na história do pensamento, como Platão, Galileu, Voltaire, Newton e afins (que comparecem repetidamente no texto, ainda que de modo não cronológico) até autores “colaterais” (como, por exemplo, Christopher Hitchens, o célebre desmistificador de Madre Teresa de Calcutá, que aparece uma única vez), uma indexação que permita uma referência rápida a qualquer um deles se faz mais do que necessária. Sorte que, habituado a esta má prática editorial, costumo, já na primeira leitura, sublinhar e anotar furiosamente nas margens quaisquer referências importantes que possa vir a querer recuperar rapidamente depois.
* * *
O livro termina brilhantemente com a seguinte frase, impressa em itálicos, que serve de epígrafe a este post mas que repetimos em nome da ênfase:
“O intelectual é o eterno irritante; ele é o grão dentro da ostra da qual a humanidade – esperemos – emergirá como uma pérola.”
* * *